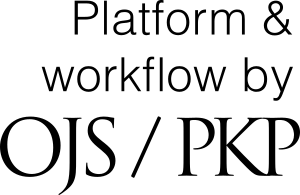A crise europeia vista da ‘periferia’ da Europa. (1era. Parte)
Resumen
A trajectória da crise, nesta parte da Europa de onde escrevo, está a deixar um rasto de inquietação e tempestuosidade que nada faria crer quando foram conhecidas as primeiras previsões do crescimento económico para o ano de 2010. Com os principais índices económicos a recuperar melhor do que o previsto, a Europa parecia preparada para enfrentar uma nova era, sobretudo depois do alívio que representou a resolução do imbróglio constitucional checo e a consequente entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Assim, em Dezembro de 2009 todos os índices, da produção industrial ao crescimento, à inflação e à consolidação dos activos das instituições financeiras, pareciam prognosticar o regresso ao caminho seguro da produção de riqueza. Para lá da zona euro, as dificuldades financeiras na Europa Central ao longo de 2009 pareciam ter deixado de estar na primeira linha das ansiedades dos mercados, com o FMI a conceder avultados empréstimos e condições draconianas a países como a Roménia ou a Hungria, mas a fazer com que o receio de default da dívida nestes países tivesse abrandado sensivelmente e deixado de pressionar as respectivas economias.
Contudo, e quase ao mesmo tempo que os dirigentes políticos se apressavam a declarar o fim da crise, as suas consequências mais profundas estavam ainda para vir à tona. A primeira delas foi a destruição de emprego, com os números do desemprego a crescerem até níveis inusitados. Um pouco por toda a Europa, o desemprego acabou por chegar perto dos 10%, e até a ultrapassar este patamar psicológico, como no caso de Espanha que o poderá até duplicar. Pior que isso, as previsões apontam para o agravamento do desemprego ainda ao longo deste ano 2010, o que atira para a completa inutilidade as apressadas declarações do fim da crise. Os economistas explicam esta dificuldade de recuperação do emprego depois de uma crise deste tipo, mas as dificuldades dos governos em gerirem as suas consequências sociais são notárias e potencialmente explosivas para a paz social. Em segundo lugar, as dificuldades de tesouraria das pequenas e médias empresas prometem manter-se, pelo que vários governos anunciaram que não retirariam os incentivos financeiros que aprovaram nos últimos dois anos na estratégia de combate à crise. Em terceiro lugar, a intervenção dos governos para obviar os impactos mais profundos da crise sobre as pessoas e as empresas arrasou o exercício orçamental de 2009 na generalidade dos estados europeus e fez agravar a dívida pública – deixando-os mais longe que nunca do cumprimento das metas estabelecidas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), um compromisso que obriga todos os membros da zona euro. Na zona euro, as dificuldades atingiram sobretudo os países mais periféricos e com dificuldades estruturais ao nível da competitividade e criação de riqueza, quer dizer, Portugal, Espanha, Grécia e, de algum modo, também a Itália (o grupo de países que no Reino Unido é muitas vezes designado de ‘PIGS’), levando alguns a expressar as maiores preocupações quanto ao impacto da moeda única num espaço que não dispõe de política económica nem de política fiscal comum.
Em Janeiro, a Grécia tornou-se no alvo preferencial das análises ao conhecer-se que atingiu, em 2009, um défice orçamental de 12,7% do PIB e uma dívida de mais de 120%, fazendo repicar todas as campainhas de alarme relativamente à estabilidade da zona euro e ressuscitando as dúvidas dos mercados financeiros quanto à capacidade de pagamento da dívida. A este propósito, as agências de notação financeira como a Moody’s, a Fitch e a Standard & Poor’s aumentaram o grau de risco da dívida grega e provocaram o aumento das taxas de juro da dívida pública e, por consequência, o juro dos empréstimos públicos e privados. De um dia para o outro, a publicitação dos números do défice orçamental e da dívida pública provocou as ansiedades do mercado, e consequentemente, também fez voltar sobre os países mediterrânicos as expectativas dos especuladores quanto ao incumprimento generalizado. As preocupações relativamente à Grécia provocaram o voltar das atenções sobre países como Portugal e a Espanha, também com pesadas dificuldades provocadas pela crise e pelo apoio ao sector financeiro nacional. O défice português atingiu em, 2009, os 9,3% do PIB (depois de uma previsão de 8,3%, apresentada pelo governo em Outubro passado), com a dívida a chegar aos 76% e as dificuldades fizeram relembrar o histórico espanhol de incumprimento da dívida. Para 2009, o défice orçamental em Espanha atingiu 11,4% do PIB, com a dívida pública a chegar aos 68%. Já em Itália, o défice atingiu 9,3%, enquanto a dívida escalou até aos 114% do PIB. É preciso dizer que a trajectória destes países nos últimos anos não é a mesma, e que a tentativa de os agrupar é muito contestável. A tendência para o aumento da dívida pública é comum a estes países, mas o seu peso relativo difere de caso para caso. A dívida espanhola desceu dos 66% no final do século para os 36% antes da crise; a dívida portuguesa vinha em crescimento, dos 50% no ano 2000 para os 66% antes da crise. Quanto à Itália, a dívida historicamente alta manteve-se sempre acima dos 100% do PIB e variando entre os 118% de 1997 e os 103% antes da crise. No caso da Grécia, os valores da dívida mantiveram-se perto dos 100% do PIB durante este período. A consolidação orçamental também tem seguido caminhos bastante diferentes nos últimos anos. A Espanha vem de vários anos de super-havit, com 2% em 2006 e 1,9% em 2007, mas apresentando já em 2008 um défice de 4,1% do PIB. Quanto à Grécia, o exercício de 2008 apresentava um défice de 7,7%, sendo que os valores dos anos anteriores superaram sempre em muito os 3% estabelecidos pelo PEC. Quanto a Portugal, e após um descontrolo das contas no exercício de 2005, as medidas de austeridade implementadas pelo governo socialista fizeram cair o défice para uns históricos 2,6% em 2007 e 2,7% em 2008. No caso da Itália, o défice público estava abaixo dos 3% do PIB até 2003, ano em que superou este valor, mantendo-se entre os 3,5% e os 4,3% até 2006. Em 2007, o défice tinha baixado para 1,5%, subindo no ano seguinte, fruto da crise, para os 2,7% do PIB.
O controlo da Comissão Europeia sobre as contas dos estados-membros (sobretudo sobre as contas dos da zona euro) e o inevitável cumprimento do PEC foi relaxado durante a crise mas, logo que os primeiros sinais de retoma apareceram, foi estabelecida uma nova meta para impor o rigor orçamental. Assim, 2013 é agora o novo prazo para trazer as contas públicas de volta aos níveis estabelecidos pelo PEC, sendo que, até lá, a Comissão Europeia se prepara para exercer uma função fiscalizadora que provavelmente nunca até agora foi tão visível nem tão potencialmente punitiva. De acordo as ansiedades de alguns sectores europeus, o descalabro das contas públicas à maneira grega poderia mesmo pôr em causa a estabilidade da união monetária europeia, pelo que já surgiram avisos velados de que, a manterem-se as dificuldades, países como a Grécia, Espanha e Portugal poderiam vir a ter que deixar o euro. Em declarações ao jornal alemão Die Welt, o Ministro grego das Finanças Georges Papaconstantinou negou categoricamente tais informações e reiterou a confiança na capacidade do seu país para equilibrar as contas públicas sem a ajuda financeira externa. A verdade é que as novas emissões da dívida pública destes países não apresentaram dificuldades e surgiram mesmo notícias do interesse da China e de investidores asiáticos por essas operações, o que avoluma as suspeitas de movimentos especulativos por detrás dos sobressaltos dos mercados financeiros.
As declarações são contraditórias, facto que só ajuda ao nervosismo dos mercados e aguça o apetite dos especuladores. A este propósito, lembro aqui as declarações incendiárias de Joaquín Almunia, ainda enquanto Comissário europeu para os assuntos económicos e financeiros (na Comissão Barroso II assumiu a pasta da concorrência). Numa conferência de imprensa no dia 4 de Fevereiro, por ocasião da análise, por parte da Comissão, do Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado pela Grécia, Almunia fez questão de associar as dificuldades deste país às de outros países, e referiu Portugal e a Espanha. Nos dias seguintes, as bolsas europeias, em especial Madrid e Lisboa, caíam a pique, com as piores perdas desde Novembro de 2008. Em dois dias, a bolsa lisboeta perdeu 16 mil milhões de euros e as obrigações do tesouro (OT) portuguesas entraram em acentuada queda, elevando o diferencial entre as yields da dívida portuguesa face à alemã para 166 pontos base, o spread mais elevado desde Março de 2009. No prazo de cinco anos, a yield da OT portuguesa subiu 4 pontos base, na dívida espanhola subiu 2 pontos base e na grega avançou 16 pontos base. No que toca aos credit default swaps(CDS), seguros que permitem aos investidores protegerem-se contra o incumprimento da dívida, há também a registar um novo máximo, com uma subida de 15 pontos base para 242 pontos base, de acordo com a Bloomberg que cita dados da CMA Datavision. Este é o valor mais elevado desde que estes títulos são transaccionados no mercado e reflecte o agravamento da desconfiança dos investidores face às contas públicas portuguesas. OS CDS de Espanha subiram 4,5 pontos base para 171 pontos base, atingindo também um recorde, enquanto na Grécia atingiram um máximo histórico de 428 pontos base no dia 5, fixando-se depois nos 420 pontos. Os juros da dívida pública dispararam, o que vai tornar ainda mais difícil o financiamento das empresas.
A reacção dos ministros das finanças de Portugal e Espanha não se fizeram esperar. Teixeira dos Santos e Elena Salgado reagiram prontamente contra as declarações do Comissário Almunia, procurando acalmar os mercados e mostrar que a situação grega não tem paralelo nas economias ibéricas, mas o dano estava feito. As críticas a Almunia foram-se multiplicando, com os analistas estupefactos perante a forma como o Comissário geriu as suas declarações. De facto, a conferência de imprensa referia-se ao Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado pela Grécia para recompor as suas contas públicas. Como tal, deveria ter servido para acalmar os mercados e não para levantar novas dúvidas sobre outros países. Perante o descalabro das bolsas, o próprio Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, fez questão de recorrer ao estatuto de Professor Catedrático de Economia para lembrar que a situação portuguesa é muito diferente da da grega. A generalidade dos analistas sublinhou que se tratava de mera especulação dos mercados, já que nenhuma nova debilidade tinha sido conhecida no dia 4 de Fevereiro que justificasse a instabilidade nas bolsas. No meio da turbulência, a agência de notação financeira Fitch reafirmou a semelhança das debilidades que caracterizam as economias grega, portuguesa e espanhola, mas considerou que não existe perigo de contágio para as economias mais fortes da zona euro.
Deste modo, as atenções viraram-se definitivamente para Portugal e Espanha para a capacidade dos respectivos governos de proceder ao saneamento das contas públicas, já não até 2013 mas no imediato. Assim, o Programa de Estabilidade e Crescimento que ditos governos apresentaram em Bruxelas, e que foi escrutinado meticulosamente pela Comissão Europeia, foi visto como o momento decisivo para recuperar a credibilidade e até o favor dos mercados. Com um grau de endividamento público e privado nunca antes atingido, ambos governos viram-se obrigados a tomar medidas extremas e a prescindir de algumas das bandeiras de campanha para cortar a despesa pública. Ainda assim, e no meio da suspeita generalizada de que os dois países não seriam capazes de levar a cabo as reformas necessárias e de que os seus problemas poderiam arrastar a moeda única para o abismo, a cimeira europeia convocada para o primeiro fim-de-semana de Maio marcou um novo estádio político no ataque à crise. Passadas as eleições regionais, e perante pressões fortíssimas de Nicolas Sarkozy, a Alemanha de Merckel aceitou aprovar um plano de estabilização financeira do euro, com a concomitante ajuda a países em dificuldade financeira, facto que obrigou os governantes de Portugal e Espanha a aceitar medidas mais pesadas para controlar os respectivos défices. Depois da cimeira, Sócrates e Zapatero chegaram a Lisboa e Madrid como chefes de governo que haviam perdido uma parte importante da soberania financeira, a quem tinham sido impostas condições draconianas em troca da promessa de solidariedade do eurogrupo. É sabido que o próprio Obama contactou Zapatero para lhe tornar clara a gravidade da situação. Por seu lado, Sócrates e Zapatero apresentariam as novas medidas de austeridade às audiências nacionais como o contributo de Portugal e Espanha para a salvação do euro. A resistência dos governantes portugueses e espanhóis em admitir a gravidade da situação tem sido apontada como o maior entrave para a definição de uma estratégia credível de luta contra a crise.
Aproveitando a pressão da cimeira a Portugal e Espanha, a generalidade dos países do euro adoptou um pacote de medidas duríssimas que passou pela limitação, às vezes com recurso a leis constitucionais, como na Alemanha, da despesa pública. A mudança de governo no Reino Unido provocou finalmente o reconhecimento do seu próprio problema e já se fala abertamente do país como um PIG. Tal como ficou decidido na Grécia, e na Irlanda antes dela, até 2013 a vida dos europeus vai ser marcada pelo aumento de impostos, pelo recorte de salários e pelo recuo da prestação de serviços pelo estado. Os salários da função pública serão congelados nos próximos anos ou, como já aconteceu na Irlanda, poderão mesmo baixar (o governo irlandês aprovou um corte de 5% nos salários mais baixos e 15% nos mais altos). A idade mínima para a reforma tenderá a subir, para ajudar na sustentabilidade da segurança social, e algumas regalias dos reformados serão inevitavelmente cortadas. Em Portugal, o investimento público, arma de José Sócrates na luta contra a crise, continuará a cair e o governo português já prescindir de algumas bandeiras eleitorais como a ajuda aos desempregados, a construção de novas auto-estradas, do novo aeroporto de Lisboa ou até de uma parte do programa de alta velocidade ferroviária. Quanto à subida dos impostos, há que lembrar que a consolidação orçamental conseguida por Sócrates entre 2005 e 2008 se deveu, em grande parte, à subida dos impostos, directos e indirectos, com o IVA máximo a atingir os 21%, depois baixando para os 20% em ano eleitoral. Depois da pressão europeia, foi já aprovada no Parlamento a subida da taxa de IVA para todas as categorias de produtos, também para os básicos, e o agravamento excepcional do imposto sobre o rendimento, com carácter retroactivo sobre todo o ano de 2010, e pelo menos até ao final de 2011. Com políticas recessivas desta natureza, a crise económica promete agravar-se na Europa e, neste contexto, muito pedem o reforço soberano do controlo da Comissão europeia sobre os orçamentos nacionais e o estabelecimento de um verdadeiro governo económico na União Europeia.
Com ou sem maioria absoluta nos Parlamentos, os governos dos países periféricos encontram-se debilitados politicamente devido às medidas que já estão a tomar para pôr ordem nas contas públicas e dificilmente sobreviverão à contestação social. As manifestações contra os cortes salariais sucedem-se na Grécia e já provocaram o caos nas ruas de Atenas e até a morte de inocentes; o descalabro dos conservadores nas últimas eleições já foi a consequência do mal-estar social que se vive no país. E a seguir ao descalabro grego já se anuncia o descalabro húngaro. Em Espanha, a popularidade de Rodríguez Zapatero caiu a pique, os sócios nacionalistas abandonam o barco (a Espanha é a única grande economia europeia que ainda não saiu nem sairá tão depressa da recessão) e a reforma das leis laborais promete desatar todos os conflitos. Ao mesmo tempo, só um terço da população quer que Zapatero volte a apresentar-se a eleições e a oposição exige com cada vez mais frequência a antecipação das mesmas. Em muitos dos países periféricos da Europa, e não só, a crise financeira e económica está agora a dar lugar a uma crise orçamental e política que promete retardar a recuperação e aumentar, nos próximos anos, a instabilidade social. Ao contrário do que aconteceu nos anos 1980, o bode expiatório não será o FMI, mas poderá vir a sê-lo a própria União Europeia que em trinta anos substituiu o Fundo, para a Europa mediterrânica e oriental como autoridade supranacional inquestionável de governação económica, financeira e monetária.
*Doctor en Relaciones Internacionales.
Profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas,
Universidad Técnica de Lisboa.
Profesor Invitado del Instituto de Estudios Políticos,
Universidad Católica Portuguesa
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.