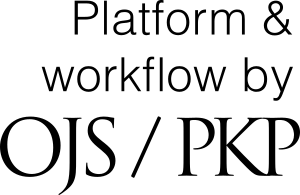A Europa entre o colapso e o federalismo
Resumen
Quando Mariano Rajoy tomou posse como presidente do governo espanhol, em dezembro de 2011, foi inequívoco em afirmar que a Espanha não precisaria de resgate e que passaria pela crise como uma grande nação. A soberba que sempre caraterizou a sua atitude — e que cresceu quando finalmente, à terceira, conseguiu ganhar umas eleições legislativas — subitamente quebrou, numa sessão das Cortes, no final de junho, quando teve que reconhecer que a Espanha rapidamente ficaria sem condições de se financiar através dos mercados. Depois de várias semanas com os juros da dívida a dois anos acima dos 7 por cento, o diferencial para com a dívida alemã acima dos 500 pontos e com a banca a precisar de ser resgatada com urgência, o discurso de Rajoy tornou-se mais modesto. Durante meses a fio, poucos na Europa acreditavam que a crise era europeia. A crise, diziam, era grega, era irlandesa ou era portuguesa. Nunca era europeia. Face à importação e contágio dos problemas originados nas práticas pouco ortoxoas das instituições financeiras norte-americanas, a Europa insistiu numa atitude de negação, resposta fragmentada e sempre a reboque dos mercados. Sem verdadeira estratégia nem liderança, titubeante quando à legitimidade e utilização dos instrumentos sob a alçada do Banco Central Europeu (BCE), a Europa passou anos — entre 2009 e 2012 — em recriminações inúteis e a cavar as clivagens surgidas aquando das negociações para a aprovação dos Tratados Constitucional, de Nice e de Lisboa. O necessário processo de reforma institucional foi demorado, o que é natural em qualquer processo de legitimação, mas terminou sem os resultados esperados. No final, foi possível assinar e pôr a funcionar o Tratado de Lisboa, mas a perda de prestígio das instituições foi inevitável, acrescentou-se pouco ou nada em termos de legitimação da Europa e da sua presença no mundo e agravaram-se as quebras de solidariedade à escala continental. Para mal de todos os pecados, a crise financeira norte-americana coincidiu com esta fragmentação da resposta institucional europeia às adversidades internas e externas e veio destapar todas as fragilidades da integração financeira e monetária que fora possível disfarçar durante dez anos.
Não foi sequer suficiente que os mercados tivessem operado um ataque concertado à Espanha e Itália, em agosto de 2011, para que os sinos tocassem a rebate. O BCE de Mario Draghi lá interveio — mais uma vez contra a opinião da ortodoxia alemã — comprando dívida pública espanhola e italiana no mercado secundário e abrindo uma verdadeira barra livre de crédito aos bancos, até ao final do ano, de um bilião de euros, supostamente para reativar a economia europeia. Nada funcionou, para muitos a estratégia não passou de uma aspirina e com a agravante de beliscar a credibilidade do BCE como instituição independente da vontade política, como determinam os seus estatutos. No entretanto, e com o avolumar dos resgates à Grécia, Irlanda, Portugal e aos bancos espanhóis, os desequilíbrios de poder no interior da União acentuaram-se. O papel que deveria desempenhar a Comissão Europeia, passou a ser desempenhado pela Alemanha, fruto da sua contribuição financeira para os fundos de resgate. Subitamente, a chanceler Merkel — junto com o ministro Schäuble e o Bundestag alemão — foram catapultados para o centro do processo de decisão europeu. Mas também para o centro do processo de contestação da política europeia. Nos países resgatados, os slogans contra o FMI dos anos 1980 dão agora lugar a slogans anti-Merkel. Já o tenho defendido, a profunda crise europeia tem, pelo menos, contribuído para a emergência de um embrionário e claramente enviesado debate transeuropeu, mas ainda assim o desencadear de um espaço público em torno das razões da crise e das suas soluções. Basta constatar a maior atenção que os meios de comunicação nacionais prestam ao debate legislativo nas instituições dos países cruciais da crise. A cobertura mediática da Grécia tem sido altamente responsável pela dramatização do caso a nível europeu e produziu mesmo várias campanhas, na sociedade civil, de apoio à Grécia, delineadas em torno da ideia de que “somos todos gregos” e que a crise é europeia. Ao contrário das lideranças políticas, que durante meses procuraram distanciar-se dos problemas gregos, irlandeses e portugueses, as sociedades civis têm entrado em ebulição e mais prontamente perceberam o caráter sistémico da crise. A indignação está em crescendo, sobretudo na Espanha, onde o resgate da banca é visto como resultado de um verdadeiro crime e atentado à sociedade. Apesar dos cuidados e da nuance da linguagem do resgate, já ninguém tem dúvidas de que os prejuízos bancários com a especulação imobiliária vão ser de alguma forma socializados. Na sequência do movimento dos indignados, na Europa mas também nos Estados Unidos, o sentimento anti-grande finança vem aumentando, e o resultado são os 25 por cento conseguidos pela coligação de esquerda radical nas eleições legislativas gregas.
O pânico parece que já chegou à Espanha e à Itália, Chipre também será resgatado, e a partir de aqui parece mais real que toda a Europa se veja perante a crise de crédito e o colapso financeiro. Entretanto, a austeridade exigida como condição para os resgates acabou, como previsível, por aprofundar a recessão e tornar inevitáveis resgates adicionais. Perante isto, muitos antevêem a fragmentação da solidariedade e da confiança política, do euro e do próprio projeto europeu, enquanto as lideranças políticas ensaiam, atabalhoadamente, novas velhas medidas com a esperança de que, desta vez, conseguirão aplacar os mercados. A mudança de liderança em França veio introduzir a linguagem do crescimento como complemento à austeridade, mas foi o pânico em Espanha e Itália que assinalou o caminho para o que poderá ser uma transformação estrutural a nível europeu, a única que parece poder evitar dar uma resposta credível à crise. Entre colapso e mais integração, os dirigentes políticos já optaram pela segunda, mas o verdadeiro drama está em conseguir negociar medidas imediatas que estanque o colapso de crédito que já ameaça a Espanha e a Itália. Na urgência da política europeia, a prioridade do crescimento, introduzida por Hollande, foi agora suplantada por Monti e Rajoy que temem não conseguir financiar-se no mercado e sabem que a Europa não tem dinheiro suficiente para resgates como o português ou o grego. O dramatismo foi máximo no conselho europeu de finais de junho quando, perante a resistência de Merkel, Monti ameaçou demitir-se caso não fossem anunciadas medidas imediatas que introduzam confiança nas respetivas economias. Na negociação de um pacote de estímulos à economia de 120 mil milhões de euros, Monti e Rajoy ameaçaram o veto e conseguiram avanços, designadamente na aprovação da figura do resgate direto à banca e na realocação de fundos estruturais não utilizados a programas de crescimento económico.
Seja como for, já ninguém esconde que a médio e longo prazo é de federalismo que se trata e assim a visão de Merkel está finalmente a acolher as visões de Hollande, Rajoy e Monti. Finalmente, a ortodoxia das contas públicas em ordem e da austeridade reconhece que, no imediato, é fundamental estimular a economia europeia ou em breve não haverá economia europeia. Finalmente, parece que a ortodoxia monetarista alemã reconhece que uma parte importante da estratégia tem que assentar numa política económica mais expansionista por parte da própria Alemanha, que aumente salários e permita um pequeno aumento da inflação. Mas no médio e longo prazo já quase ninguém duvida, exceptuando os britânicos, que é preciso avançar para o federalismo e introduzir os controlos políticos que o Tratado de Maastricht deixou de fora. Para além da união fiscal aprovada antes, estão agora em cima da mesa a união bancária e a transferência das competências orçamentais. Pelo andar da carruagem, será uma questão de tempo até a chanceler Merkel, ou o seu sucessor, aceitar os eurobonds e o princípio da mutualização da dívida na Europa. E pelo mesmo andar da carruagem, será uma questão de tempo até David Cameron, ou o seu sucessor, convocar um referendo para redefinir os vínculos do Reino Unido com a União. De acordo as sondagens do momento, fora dela.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.