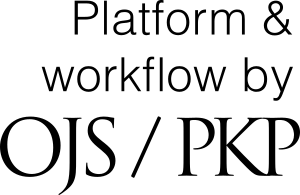A crise portuguesa e o futuro da eurolândia (1era. parte)
Resumo
Pela terceira vez desde a revolução de abril de 1974, o governo português foi em março de 2011 obrigado a pedir a intervenção do FMI para resolver uma situação financeira anunciada pelos mercados durante longos meses e que colocou o país à beira do incumprimento (default). Anteriormente, em 1978 e 1983, o recurso ao FMI pareceu uma inevitabilidade para um país saído de uma ditadura de quase 50 anos e lançado para o caos económico e financeiro por uma elite política sem experiência de governação e que carregava o peso de descolonizar, desenvolver e democratizar. Depois de abril de 1974, o país descobria o fosso político, económico e social que o separava da Europa, precisava de pôr fim a uma guerra colonial que durara quase 25 anos e de integrar milhões de cidadãos que regressavam das colónias deixando para trás os seus haveres e as suas fontes de sustento. Após abril de 1974, o país também redescobria a política e a dificuldade de encontrar o caminho para a estabilidade governativa que permitisse seguir um programa coerente. O regime, que começou por ser semi-presidencialista ao estilo francês, determinou uma competição política férrea entre o presidente da República e o primeiro-ministro, ambos disputando uma legitimidade política que lhes vinha directamente das urnas. Ainda assim, os governos minoritários, de coligação ou de iniciativa presidencial sucederam-se até 1987, deixando um rasto de instabilidade política e confronto pessoal entre os principais dirigentes de tidos os quadrantes ideológicos. O carácter socializante da revolução de 1974 deixou as suas marcas nos programas de todas as forças políticas, e foram precisas quase duas décadas de negociação do texto constitucional para libertar a política e a economia dos constrangimentos ideológicos revolucionários. Para cúmulo, o ano de 1975 assistiria a uma série de movimentações políticas que puseram o país à beira da guerra civil. No mês de março uma tentativa de golpe esquerdista abortada por um novo golpe militar em novembro e o regresso à legalidade constitucional.
Em 1978 e 1983, as dificuldades financeiras e as negociações com o FMI apanhavam o país no meio deste vendaval político, mas também já a meio das negociações para a adesão às Comunidades Europeias. Destra forma, o recurso ao FMI aparecia como o remédio inevitável no caminho da convergência europeia e um instrumento para que o país alcançasse a estabilidade financeira indispensável para tal. Ainda que sempre envolvido nas polémicas da ingerência e da perda da soberania, o recurso ao FMI rapidamente foi assimilado na narrativa quase épica da adesão à Europa como provação necessária antes da promessa do fim da História. O generoso estímulo europeu à convergência social acabaria por mudar a face do país, mas também condenou a indústria pesada, o sector das pescas e a agricultura do país. Mesmo assim, as pequenas e médias empresas alargaram o seu mercado, foi possível atrair investimentos avultados das grandes empresas transnacionais e o sector dos serviços transformou-se, em poucos anos, numa marca da transformação do país. Com o acesso ao crédito muito facilitado, o consumo disparou e aquilo que era um mercado muito fechado de repente passou a ser muito apetecível para os grandes exportadores europeus. A adesão à moeda única desembaraçou ainda mais os constrangimentos ao consumo, com a queda histórica das taxas de juro reguladoras do BCE, e às trocas intra-europeias mas retirou ao governo português um instrumento de competitividade da economia que utilizara recorrentemente desde 1974, a desvalorização da moeda.
Assim, a primeira década do século XXI é marcada pela estagnação económica e pela explosão do endividamento público e privado. A estagnação económica deveu-se ao esgotamento de um certo modelo de crescimento assente na mão-de-obra barata e na maior competitividade que certos países puderam fazer nesse âmbito, os países do Leste europeu, por exemplo, mas também a China. Mas também se deveu à adesão a uma zona monetária que não dispõe de instrumentos de harmonização fiscal nem real forma de promover a convergência económica ou financeira. Contudo, e parte de uma zona monetária de prestígio, o estado português passou a poder financiar-se junto dos mercados a preços ‘alemães’. Com o consumo privado em alta, o sistema bancário também se endividou para corresponder à procura de crédito, o que dinamizou o sector imobiliário e inflacionou o preço das casas. Num primeiro momento, a crise do subprimeafectou pouco Portugal, mas à medida que as consequências da crise americana chegaram à Europa, o contágio passou a ser inevitável. Uma economia aberta, periférica e vulnerável aos movimentos dos mercados dificilmente conseguiria resistir sem recorrer à ajuda externa. Ironicamente, a desconfiança e pressão dos mercados agravou-se fruto da aplicação das próprias regras europeias no imediato pós-crise de 2008-2009. Fruto desta, a generalidade dos governos europeus interrompeu o programa de consolidação orçamental, que é a base do pacto de estabilidade financeira da zona euro, para acudir às necessidades sociais e ao crescimento do desemprego. Mas a ortodoxia macroeconómica vigente depressa obrigaria a regressar ao pacto de estabilidade, e com rigidez acrescida, de forma que, até 2013, o défice público dos países da zona euro deverá descer até aos 2% do PIB. Para países que assumiram encargos derivados da crise, a situação pareceu dramática, e viram-se com défices, reais ou forjados, de 9% como Portugal ou mesmo 13% como a Grécia. No caso da Irlanda, o resgate forçado dos bancos por parte do estado fez disparar o défice público para os 32% do PIB em 2010. Perante a dificuldade de cumprir as metas do pacto de estabilidade, os mercados passaram a distinguir o risco dentro da zona euro e as agências de notação depressa fizeram reflectir essa desconfiança na avaliação das dívidas soberanas e dos bancos. Entre Março de 2010 e Março de 2011, as dificuldades de financiamento e a subida dos juros colocaram a Grécia, a Irlanda e Portugal à beira do incumprimento, com os dirigentes europeus preocupados agora em evitar o contágio à Espanha.
No último ano, e perante o adensar da pressão dos mercados e dos seus pares europeus, o governo socialista evitou a todo o custo o recurso à ajuda externa. Mesmo quando os juros da dívida ultrapassaram os 7%. Mas passado um ano sobre o resgate da Grécia, o agravar contínuo dos juros, a pressão dos bancos nacionais de que deixavam de comprar dívida pública por esta representar um risco intolerável, e a rejeição do programa de estabilidade e coesão (PEC4) no Parlamento, o primeiro-ministro Sócrates pediu a demissão e instalou-se a crise política. A questão do pedido de ajuda e resgate – e o regresso do FMI, neste caso em forma de ‘troika’ com os representantes da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu – é tão sensível que só foi possível proceder a ele após a dissolução do Parlamento, sendo mesmo polémico se um governo em gestão teria poderes para decidir um acto tão importante. Após 25 anos de integração europeia e de transformação de Portugal em país europeu, a chegada da ‘troika’ a Lisboa para impor as condições do resgate está já a impor uma reavaliação e uma leitura renovada da narrativa de sucesso da transição portuguesa desde 1974, das lógicas da integração europeia e do futuro da zona euro.
*Doctor en Relaciones Internacionales.
Profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Técnica de Lisboa (UTL)
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.