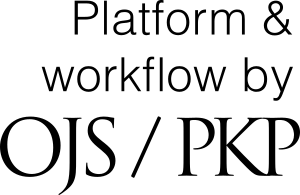Um novo Parlamento para uma nova Europa?
Resumo
Entre os dias 4 e 7 deste mês de Junho decorrem, nos 27 países da União Europeia (UE), as eleições para o Parlamento europeu (PE). São umas eleições cruciais para o futuro da Europa como entidade política e, no entanto, apesar do acréscimo de poder de decisão que esta instituição soube negociar para si através das sucessivas revisões dos tratados e das reformas informais intercalares, a cidadania europeia mantém-se indiferente e as sondagens demonstram os níveis mais baixos de sempre nas intenções de voto.
As sucessivas revisões dos tratados que instituíram, primeiro, as comunidades europeias e, depois, a UE, conduziram o PE a um lugar central no processo de formulação de políticas e, mais especificamente, no de tomada de decisões sobre a legislação que é aplicada em todo o território da UE. Ao mesmo tempo, esta centralidade foi contribuindo para um processo político mais escrutinado, mais transparente e mais democrático, contrariando a tendência eminentemente burocrática do processo de integração europeia que marcou as primeiras décadas desde o Tratado de Paris (1951).
É mesmo possível dizer, apesar da pouca consciência que os cidadãos parecem ter do facto, que o PE se transformou, em poucas décadas, numa instituição central do próprio sistema político de cada um dos países membros da UE, já que cerca de 80% da legislação que se aplica em cada um deles emana das decisões que o PE produz em regime de co-decisão com o Conselho da UE, a instituição onde estão representados os estados. Assim, e de instituição consultiva formada por parlamentares nacionais dos 6 países membros originais, o PE transformou-se em instituição decisória cujos membros provêm de 27 países e são eleitos por sufrágio universal e directo. Os actuais 736 europarlamentares representam 500 milhões de eleitores e desempenham a importante função da agregação de interesses no seio da UE.
Vale a pena sublinhar que as várias instituições centrais da EU e a relação entre elas demonstram uma especificidade política relativamente ao sistema de cada um dos países membros. De facto, ao nível europeu as instituições centrais partilham competências legislativas e executivas, o que transforma as suas relações num complexo sistema de cooperação e competição, de alianças e de agregação de interesses na elaboração de políticas. O PE, por exemplo, não dispõe do poder de iniciativa legislativa, monopolizado pela Comissão europeia, ao contrário dos parlamentos nacionais e a produção de legislação – directivas e regulamentos – é feita através de um procedimento complexo em que os interesses do PE e do Conselho da UE têm que convergir, designadamente através da aprovação de emendas às propostas originais provenientes da Comissão.
Também vale a pena realçar, o que é crucial para compreender o alto nível de abstenção nas eleições europeias, que o PE não funciona de acordo com a lógica governo versus oposição. A eleição para o PE consiste, de facto, em 27 eleições nacionais separadas, em que cada país faz eleger ao PE um número específico de parlamentares de acordo com a sua expressão populacional no interior da UE. Assim, enquanto Malta tem 5 representantes no PE, a Eslovénia dispõe de 7, a Irlanda 12, a Dinamarca 13, a Bulgária 17, Portugal e a Grécia 22, a Holanda 25, a Roménia 33, a Espanha e a Polónia 50, o Reino Unido, a França e a Itália 72 e a Alemanha, país mais populoso da EU, 99.
Uma vez eleitos, os europarlamentares não formam grupos nacionais; ao contrário, são integrados em grupos parlamentares europeus de acordo com a sua base ideológica. Das eleições europeias de 2004 resultou que o grupo mais representativo tivesse sido o Partido Popular europeu (PPE), logo seguido do Partido Socialista europeu (PSE). Contudo, isto não significa que o PPE governe a UE e que o PSE seja a oposição. Não há sequer um governo da UE no sentido clássico, demoliberal, do executivo centralizado, responsável pela aplicação da legislação aprovada numa câmara parlamentar. A instituição mais próxima de exercer essa função é a Comissão, com um presidente e um gabinete composto por comissários (um de cada país membro) a quem é atribuía uma pasta numa das matérias de actuação da UE como, por exemplo, comércio, agricultura, relações externas, segurança interna ou alargamento. Ainda assim, são os governos quem avança com os nomes dos comissários, restando ao Presidente da Comissão a distribuição das pastas.
Significa isto que o debate no seio do PE entre os diferentes grupos parlamentares não corresponde à lógica governo versus oposição, nem tão-pouco, como é mais evidente, à lógica da disputa entre estados; ao contrário, a lógica própria do debate política no seio do PE é o da agregação de diferentes interesses – que decorrem das diferentes fracturas internas (nacionais, ideológicas, corporativas, pessoais) – em redor de algo que constitui, no final das contas e dos compromissos possíveis, a expressão do interesse europeu. Esta é, no fundo, a lógica da democracia representativa, e por isso considero tão importante o trajecto que conduziu à actual centralidade do PE no processo de formulação de políticas. Para além da co-decisão, o PE viu reconhecido, no Tratado de Lisboa, o direito de participação nos mecanismos de verificação da implementação da legislação europeia, o que torna esta instituição central, por exemplo, no escrutínio da transposição que os estados fazem – ou não fazem – dos actos legislativos em cuja aprovação participa e em que tem a oportunidade de introduzir emendas à proposta original da Comissão europeia e às sugestões do Conselho da UE.
Numa revista rápida da evolução dos poderes do PE, há que sublinhar as competências orçamentais ganhas nos anos 1970; a aquisição de competências no âmbito da aprovação dos alargamentos da UE e nos acordos internacionais (através do Acto Único europeu de 1985); a co-decisão e o poder de convidar a Comissão europeia a apresentar propostas legislativas atribuídos pelo Tratado de Maastricht de 1992, para lá da simplificação e extensão da aplicação da co-decisão a novos campos, progressos verificados nos Tratados de Amesterdão, Nice e Lisboa. Para lá do papel legislativo e orçamental, o PE também viu muito reforçada a sua participação na nomeação e escrutínio da Comissão europeia, aquilo que mais se aproxima do controlo do executivo no modelo político demoliberal.
Com o Tratado de Maastricht, o PE passou a votar a nomeação da Comissão europeia e com o Tratado de Amesterdão passou a votar a nomeação do Presidente da Comissão, indigitado pelos chefes de executivo dos países membros reunidos no Conselho europeu. A partir das eleições deste fim-de-semana, a eleição do Presidente da Comissão europeia – cujo mandato termina no final de 2009 – ficará ainda sujeita a um novo procedimento que implica o PE. Mais próximo do modelo de governação demoliberal, os resultados das eleições europeias serão fulcrais para a escolha do novo Presidente da Comissão; este continuará a ser indigitado pelo Conselho europeu – pelos estados, portanto – mas tendo em conta os resultados das eleições europeias e devendo sair das filas do partido europeu mais votado.
Isto, e o facto de o actual Presidente da Comissão europeia ser um português – José Manuel Durão Barroso – tem tornado esta uma das questões centrais da campanha eleitoral em Portugal. O Primeiro-Ministro, socialista e do PSE, já deu o apoio português a Durão Barroso, do PPE, com base no argumento pretensamente patriótico de que o interesse nacional português é o de ter um nacional à frente do ‘executivo’ europeu. O mesmo fizeram José Rodríguez Zapatero, em pleno comício dos socialistas ibéricos em Coimbra, afirmando que um espanhol votará sempre num português, o trabalhista Gordon Brown (ainda) no poder no Reino Unido e a dirigente do SPD alemão que irá a votos ainda antes da escolha do presidente da Comissão europeia. Para estes dois últimos, a razão para ser a percepção de um certo contentamento com o equilíbrio institucional e de interesses nacionais conseguido pela primeira Comissão Barroso, não vendo necessidade de reabrir uma questão sempre muito sensível como é a da escolha do Presidente da Comissão. Neste caso, a lógica partidária ficaria em segundo plano. Contudo, os europarlamentares não têm que seguir a indicação dos seus partidos nacionais, e pode bem acontecer que, na próxima oportunidade, votem de acordo com uma lógica de partidos europeus, tirando partido do compromisso informal que atribui o cargo de Presidente da Comissão europeia ao grupo europeu mais votado.
Significa que, pela primeira vez, vai haver uma relação quase directa entre uma maioria parlamentar no PE e o governo da UE. Com a futura transformação da Comissão ao abrigo do Tratado de Lisboa, também haverá a possibilidade de transformar esta instituição em algo mais próximo de um governo e dar-lhe mais coerência política – permitindo, por exemplo, ao Presidente escolher os seus comissários/ministros. E permitir uma legitimidade parlamentar à actuação desse executivo. Muito do afastamento dos cidadãos europeus das questões europeias deve-se, em meu entender, à ausência deste vínculo político do PE com o governo da UE e a percepção de que esta instituição é marginal no dia-a-dia dos cidadãos. Além do mais, a crise económica e financeira pronunciada na Europa agravou o sentimento de desamparo e fez concentrar as campanhas eleitorais no tradicional jogo do assacar das culpas, que opõe os governos às oposições. Os temas nacionais dominaram a campanha em todos os países, o que acaba por transformar estas eleições em combates prévios para eleições legislativas nacionais mais ou menos próximas.
A dificuldade de fazer coincidir a importância que já tem o PE com a percepção que dessa importância têm os cidadãos em geral, e a elite política em particular, atesta algumas das contradições e paradoxos da integração europeia. Constituindo-se como um patamar adicional de governação que não pretende substituir a política nos estados membros da UE, mas fazer o contrário – isto é, adicionar mecanismos, políticas, instituições – confronta-se com a dificuldade própria dos corpos híbridos: não são uma coisa nem outra, às vezes são mesmo uma coisa e o seu contrário, desafiam os paradigmas dominantes sem serem capazes de contrapor algo inequívoco, desconcertando sempre a quietude de quem não suporta a ambivalência. Na política europeia também é assim; os cidadãos, os políticos, os actores económicos desconfiam da Europa, restando-lhes o consolo de a transformarem em bode expiatório da sua incapacidade, hesitação e falta de coragem.
El autor es Doctor en Relaciones Internacionales
Profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Técnica de Lisboa
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.