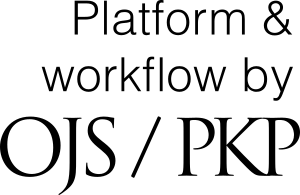Quando a crise da dívida atinge Espanha e Itália
Resumo
Novembro de 2011. A crise da dívida nos países periféricos transformou-se na crise de toda a zona euro e demonstrou até que ponto as economias europeias estão viciadas no crédito e como a desconfiança dos mercados quanto ao pagamento da dívida está a contagiá-las a todas. Há dez anos, os parceiros europeus entravam em euforia com o lançamento da moeda comum e os mercados reagiam como se isso fosse suficiente para trazer também a convergência orçamental e fiscal típicas de uma entidade federal. O resultado foi a baixa histórica das taxas de juro para países com acesso limitado ao crédito, ao mesmo tempo que os critérios apertados para a adesão ao euro foram sendo descurados com o tempo, em alguns países, ou mesmo forjados, noutros, com o objetivo de garantir a adesão imediata a esse clube restrito.
A indisciplina orçamental em alguns países da zona euro, tomemos o exemplo de Portugal e Espanha, tem causas muito diversas e não é justo culpar apenas os socialistas neste momento de crise terminal. É certo que os socialistas estiveram no poder em momentos críticos e durante uma parte importante do avolumar da crise atual, mas o problema é claramente estrutural e ultrapassa a conjuntura. Apesar da diferença de dimensão – a Espanha é a quinta economia da Europa e a décima segunda do mundo – Portugal e a Espanha partilham algumas caraterísticas estruturais que tornaram possível esta crise e que tornariam inevitável o contágio, a começar pelo elevado grau de integração das suas economias. A chegada da democracia em meados da década de 1970 trouxe a abertura do mercado e o investimento maciço do estado nas infra-estruturas com o objetivo de proceder a uma europeização rápida. A integração nas comunidades europeias (1986) trouxe os fundos estruturais que aceleraram o processo e permitiram uma convergência real com o nível de vida médio na Europa do Norte, além de permitirem reforçar o estado social, mas que também puseram à disposição do estado recursos impensáveis até então e que este utilizou para fidelizar clientelas e engordar os privilégios dos altos funcionários do estado.
Como se torna evidente no momento atual, a negociação para a adesão de 1986 foi mais trágica para Portugal do que para Espanha, mas reflete prioridades a nível europeu que passaram pela diminuição e endividamento das economias periféricas e que se demonstram agora catastróficas. As transferências de rendimento em nome da solidariedade e convergência tiveram como moeda de troca, em Portugal por exemplo, o desmantelamento da economia – o afundamento real da agricultura e pescas e a evaporação da presença do estado no setor produtivo – e a concentração estratégica dos fluxos comerciais com os parceiros europeus. Ao abrigo da convicção liberal de que mais integração económica traria mais prosperidade e paz – independentemente de quais as regras que governariam essa integração – os países periféricos foram levados a dispensar os instrumentos clássicos para a promoção do crescimento e da competitividade, incentivados a abrir as fronteiras aos fluxos financeiros e ao investimento e, finalmente, lançados no jogo perigoso do endividamento público e privado, ao mesmo tempo que países excedentários como a Alemanha praticavam políticas orçamentais demasiado restritivas.
Em termos gerais, os países que hoje são vistos como indisciplinados do ponto de vista orçamental tomaram opções discutíveis, não há dúvida, mas também é verdade que jogaram o jogo europeu de acordo com regras e estímulos provenientes de Bruxelas e de Berlim. E alimentaram, com essa indisciplina, o mercado para os produtores alemães. A crise da dívida não tem posto em causa apenas o modelo de solidariedade política em que assenta a União Europeia, cada vez que as opiniões públicas nacionais ameaçam bloquear a tomada de decisões para aplacar a crise; ela tem posto em dúvida a o caráter benigno do próprio modelo de integração e a sua contabilidade do deve e do haver para alguns países periféricos. Por fim, tantas são as dúvidas sobre o caráter benigno da europeização que parece indesmentível estar em marcha o processo que alguns já chama de descomunitarização, isto é, o processo através do qual a integração regride em algumas áreas e pode mesmo pôr em causa todo o modelo de integração. Seria uma espécie de spill-over de sentido contrário ao que os funcionalistas teorizaram nas décadas de 1950 e 1960, e em que a fragmentação da união monetária poderá acabar por estender-se a outras áreas da integração europeia. É o que se passa com as contínuas ameaças de expulsão da Grécia da zona euro, que poderia estender-se a outros países e que destapou, nas últimas semanas, os rumores de um plano franco-germânico para a criação de duas zonas monetárias distintas na Europa, uma a Norte e outra a Sul. A reacção contra o suposto plano por parte das instituições europeias e seus dirigentes foi violenta, do presidente da Comissão Durão Barroso ao presidente da zona euro Juncker, mas ganha adeptos no Norte da Europa uma qualquer reação restritiva como forma de conter o contágio que vem do Sul.
A ausência de estratégia europeia para conter a crise da dívida deixou espaço para reações pontuais e descoordenadas dos diferentes parceiros, sempre mais preocupados em demonstrar aos mercados que o caso grego, e depois o irlandês e depois o português eram casos específicos sem qualquer paralelo com os seus países. Quando os mercados se lançaram sobre a Itália e a Espanha, não restaram mais dúvidas sobre o caráter europeu da crise, a insuficiência das respostas ensaiadas anteriormente e a solidez da solidariedade no continente. Os altos défices públicos da Itália e da Espanha só vêm demonstrar que também nas principais economias europeias o crescimento está dependente do crédito, barato e acessível até há bem pouco, mas que as elevadas injeções de crédito não se têm, nos últimos anos, refletido em mais crescimento nem num novo modelo de crescimento assente na inovação e na sustentabilidade. Pelo contrário, e a queda do crescimento na Europa nos últimos anos vem demonstrar que o modelo de produção de bem-estar é verdadeiramente o problema essencial no continente. O processo é o da perda contínua de competitividade das economias europeias, umas mais que outras, e a sua incapacidade para suster o modelo do estado de bem-estar criado após a segunda guerra mundial. Sem produção adicional de riqueza, o modelo europeu corre o risco de se esgotar e, com ele, o essencial da integração europeia. Está longe de ficar claro qual o modelo económico para a Europa que possa relançar o crescimento e tornar sustentável o bem-estar alcançado nas últimas décadas. A estratégia de Lisboa para tornar a economia europeia a mais competitiva do mundo até 2010 falhou, mas a única certeza é que só com mais integração se pode alcançar esse objetivo num futuro próximo. O que aliás está relacionado com as falhas da integração monetária. Também neste aspeto, só com mais governação económica – com mais poderes da Comissão de Bruxelas em matérias até agora de competência exclusiva dos governos nacionais - isso poderá acontecer.
Não deixa de ser paradoxal que o modelo de intervenção e resgate para a Grécia, Irlanda e Portugal se tenha baseado em políticas orçamentais muito duras para cortar, no imediato, as despesas do estado e as dívidas de empresas públicas, estado central, autarquias e autonomias. O resgate português, negociado com a troika constituída por FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu foi acompanhado pela eleição de um novo executivo, de direita, cujo programa de governo assenta na aplicação do programa da troika. É um programa duro, que alguns caraterizaram como típico de tempos de guerra, e que inclui aumento brutal de impostos diretos e indiretos – que se soma aos aumentos constantes dos últimos anos – corte dramático nos salários e pensões, suspensão, para 2011 e 2012, do pagamento dos dois salários extraordinários, subida acentuada dos preços dos serviços públicos – transportes, saúde, educação – e racionalização dos mesmos recursos. A armadilha do programa da troika reside, como todos admitem e as projeções económicas para 2012 confirmam, em que estas políticas restritivas vão produzir mais recessão económica, prevendo-se um crescimento negativo para o próximo ano de 3% (mas um ligeiro crescimento positivo já para 2013). Contudo, o verdadeiro drama está em que a diminuição do défice orçamental e da dívida ficam dependentes, não só do clima económico na Europa mas também do grau da recessão provocada por estas medidas. Quanto mais austeridade mais recessão, e quanto mais recessão mais défice, menos capacidade de pagar a dívida, desemprego galopante, mais dúvidas e especulação dos mercados, mais juros sobre a emissão de dívida e mais dificuldade em regressar ao mercado para financiar a economia. A armadilha da dívida, e do programa da troika para a debelar, ameaça diretamente o que resta da soberania de alguns países europeus, a paz social e a democracia, assim como promete agravar os desequilíbrios sociais.
No caso de Portugal, o orçamento para 2012, recentemente aprovado na generalidade e por estes dias em discussão na especialidade, é o mais duro e austero desde a implantação da democracia em Abril de 1974. Para um orçamento total de 79.557 milhões de euros, as receitas previstas são de 72.000 milhões. O que representa um défice de 7.557 milhões, ou seja, um défice de 6,7% do PIB que o estado financia através do Fundo de Estabilidade Financeira (FEEF) da União Europeia e do FMI. Do lado da receita, e em conjuntura recessiva e desemprego previsto de 13,4%, as contribuições sociais descem 5%, os impostos correntes sobre rendimento e património descem 1,7% enquanto os impostos sobre produção e importação sobem 4,1%. Para corresponder às exigências da troika, o grande ajustamento será feito do lado da despesa e do funcionamento do estado. A Saúde contará com menos 7,1%, os Negócios Estrangeiros com menos 9,4%, a Justiça com menos 8,4% e a despesa em educação baixará dos 5 para os 3,8% do PIB. Para o ministro das finanças Vítor Gaspar esta é a hora da verdade e 2012 marcará mesmo o momento em que as famílias sentirão, de forma dura, a inevitabilidade do empobrecimento.
No total, as medidas de consolidação orçamental alcançarão, só em 2012, os 10.350 milhões de euros. Deste valor, 6.259 milhões representam medidas que ou retiram rendimentos às famílias ou aumentam os impostos que elas têm que pagar, o que totaliza, num só ano, 5% do rendimento disponível e se vem somar aos cortes já efetuados nos últimos dois anos para combater a crise. Em sede de IRS, por exemplo, e aos agravamentos sucessivos dos últimos anos, acrescem limites às deduções fiscais para todos os escalões menos os dois mais baixos, taxa adicional de 2,5% para o escalão mais alto, subida da taxa sobre mais-valias de 20% para 21,5%, além de uma taxa de 30% sobre transferências para paraísos fiscais.
Daquele valor, 3.255 milhões correspondem a uma poupança conseguida através da contenção do estado, em grande parte por um corte das transferências para as autarquias e empresas públicas. O contributo das empresas privadas será através do agravamento dos impostos no valor de 655 milhões de euros. Quanto ao sistema bancário, mantém-se o valor em vigor de 25% de IRC e a taxa especial de 0,05% sobre o passivo dos bancos. E o esforço não ficará por aqui. Se para 2012 as políticas de austeridade pretendem colocar o défice nos 6,7% do PIB, a meta para 2013 é de 4,5% do PIB, o que agravará a tendência para o empobrecimento e para a limitação do consumo privado. Segundo as estimativas, e no que toca especificamente aos funcionários públicos, a perda acumulada de poder de compra será, entre 1997 e 2012, superior a 29%. Só em 2012 essa perda será de 17%.
O agravar da crise nas últimas semanas desatou os alarmes relativamente a este encadeamento de problemas que afeta cada vez mais países europeus. O fim patético do governo Papandreu na Grécia foi desencadeado pela ideia mirabolante de convocar um referendo que confirmasse o segundo plano de resgate e as duras políticas de austeridade, na tentativa de aplacar a rebelião popular. A estratégia de Papandreu andou ainda misturada com rumores de golpe de estado militar e finalmente conduziu à sua demissão, à eliminação do referendo mirabolante e à constituição de um governo técnico encabeçado por Lucas Papadimos, um antigo vice-presidente do Banco Central Europeu. A crise condenou também o governo italiano, quando as taxas de juro da dívida se aproximavam perigosamente dos 7% - que acabariam por ultrapassar, já com novo governo - o limiar geralmente aceite para pedir resgate financeiro e impedir a bancarrota. Mais uma vez, um governo democraticamente eleito foi substituído por um governo técnico, não eleito – ainda que por um tempo limitado – até à realização de novas eleições. No caso italiano, o novo governo é encabeçado por Mario Monti – antigo membro da Comissão Europeia – mas o mandato é o mesmo, acalmar os mercados com um governo técnico, desligado da política, capaz de pôr em prática medidas de austeridade duríssimas sem ceder à violência de rua que tamanhas políticas provocarão tanto na Itália como na Grécia. No preciso momento em que escrevo estas linhas, acaba de cair outro governo por efeito da crise da dívida, o governo socialista de Zapatero nas eleições gerais deste domingo. Apesar dos esforços dos socialistas, os mercados não deram tréguas e os juros da dívida também se aproximaram nos últimos dias do patamar dos 7%. Mariano Rajoy, o novo presidente do governo espanhol, anunciou em campanha que cortará em tudo menos nas pensões de reforma. Seja como for, tanto em Espanha como em Portugal o processo democrático tem-se desenrolado com normalidade, sendo que os novos governos de direita contam com maiorias confortáveis no Parlamento e com o apoio – ou a resignação – das opiniões públicas. Ainda assim, são muitas as vozes que chamam a atenção para que estão criadas as condições empíricas para que se repita o fenómeno da subida ao poder de forças extremistas em vários países europeus, através de eleições ou manobras extra constitucionais.
Quando a crise da dívida chega à Espanha e à Itália ela torna-se verdadeiramente europeia e as instituições inquietam-se. Pela primeira vez, é real a ameaça do colapso de todo o edifício e são cada vez mais as vozes que clamam por um Banco Central Europeu que assuma funções típicas de todo o banco central numa federação, como é o caso da Reserva Federal norte-americana. As famosas Eurobonds estão agora no centro da discussão, assim como a aplicação de taxas às transações financeiras, remédios que prometem agravar as tensões entre os parceiros europeus e protelar a tomada de decisões significativas para aplacar a crise. A Alemanha resiste à criação das Eurobonds, enquanto o Reino Unido se manifesta contra a taxa sobre transações financeiras que penalizaria a City londrina. Em última análise, a questão já chegou às negociações do G20, onde os europeus ansiavam pela ajuda para o reforço do FEEF. O compromisso não foi alcançado e Christine Lagarde do FMI já alertou para uma década perdida para o crescimento da economia mundial. Esta poderá bem ser a realidade dos próximos 10 anos um pouco por todo o mundo.
*Doctor en Relaciones Internacionales.
Profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Técnica de Lisboa (UTL)
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.