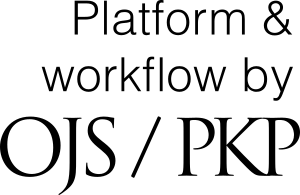Crise. What’s in a Word
Resumen
Chamam-lhe crise da dívida soberana na Europa, chamam-lhe crise do euro e até crise dos PIGS, dos países periféricos de uma certa Europa. Chamam-lhe crise financeira, económica e dos mercados mas, na realidade, a profunda crise vivida no velho continente é, antes de mais, uma crise política que tem que ver com os paradoxos da construção europeia. Colocada de forma simples, a questão radica na construção de um federalismo monetário europeu, que culminou com a adoção do euro, que não foi replicado pelo necessário federalismo fiscal, orçamental, e das políticas financeiras e económicas. Assim hoje, os dezassete países da zona euro prescindiram dos instrumentos de política monetária – como a desvalorização da moeda, tão utilizada em tempos de crise – mas mantendo a capacidade soberana sobre a fiscalidade, o orçamento e as políticas de fiscalização dos respetivos sistemas financeiros, parcelares. E o mesmo se aplica às políticas de criação de riqueza e crescimento económico. No âmbito da moeda, surgiram instrumentos supranacionais; nos outros, os europeus enredam-se em instrumentos intergovernamentais.
A presente conjuntura veio tornar mais óbvio este paradoxo e exigir uma resposta europeia a uma crise que, desde a cimeira extraordinária de 21 de Julho, passou a ser vista pelos dirigentes europeus como uma crise europeia, senão mesmo como uma crise da Europa. Mas foi preciso que o contágio grego pusesse em perigo uma economia tão central e determinante como a italiana. A narrativa da crise começou por sublinhar a especificidade dos problemas gregos e a necessidade de lidar com eles de uma maneira que evitasse o contágio a outras economias fragilizadas pelos efeitos da crise do subprime nos Estados Unidos. Lidar com o problema grego passou a ser mais uma das intermináveis maratonas intergovernamentais que consistem na conciliação de interesses e visões do mundo às vezes opostas. O que os europeus não perceberam desde o princípio da crise foi que negociar o resgate da Grécia não era o mesmo que negociar um novo tratado europeu e que falhar uma resposta eficaz para a crise teria consequências para toda a Europa difíceis de antecipar e de controlar. À medida que o resgate grego ia tardando, os mercados foram avolumando a sua desconfiança quanto à capacidade dos restantes países periféricos ultrapassarem as suas dificuldades conjunturais e a estabilidade da zona euro foi posta em causa. O contágio foi imparável e os mercados passaram a olhar para a zona euro como um conjunto díspar de países com diferente capacidade para honrar os seus compromissos financeiros. À especulação dos mercados juntou-se a incapacidade de alcançar uma resposta europeia e as agências de notação financeira (a Moody’s, a Fitch e a Standard and Poor’s) passaram a ser vistas como atores essenciais da gestão da crise, cada vez que descem o rating dos países afetados e agravam ainda mais a sua capacidade de financiamento no mercado.
O atraso e deficiência na resposta europeia à Grécia, mas também a incapacidade desta última em forjar a unidade política interna necessária para pôr em prática um plano eficaz de saneamento financeiro – mas também, dirão outros, o estrangulamento económico promovido pelo plano da troika (Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI) que atirou a Grécia para a recessão – avolumou a especulação sobre as dificuldades irlandesas e portuguesas – com a consequente subida galopante dos juros da dívida – e ambos países viram-se obrigados a recorrer ao Fundo europeu de estabilidade (FEEF) e, portanto, à ajuda externa. Em Portugal, esta conjuntura levou mesmo ao avolumar da crise política e o governo socialista, de minoria parlamentar, acabaria por se demitir ao ver rejeitado, pela oposição, o plano de ajustamento exigido pela Comissão Europeia, seguindo-se eleições legislativas. Assim, e ainda antes das eleições do passado 5 de Junho, o governo em funções viu-se obrigado a pedir a intervenção da troika e a negociar o plano de ajuda externa que alcançou um valor de cerca de 80 mil milhões de euros, uma taxa de juro de 5,7%, e teve como moeda de troca um plano radical de ajustamento da economia portuguesa. No entretanto, e com o agravar da situação financeira e dos pacotes de ajustamento, o cidadão comum viu-se obrigado a perceber de finanças internacionais, e são habituais as conversas quotidianas sobre o financiamento da República, sobre as agências de notação financeiras, sobre as subidas e descidas das taxas de juros e do rating, assim como do funcionamento do sistema financeiro global. Pode dizer-se que as dificuldades tornaram o cidadão comum mais consciente do mundo em que vive e alerta para as armadilhas do capitalismo global.
No momento em que os socialistas deixaram o poder, e em que uma parte substancial da direita portuguesa se revoltou contra os mercados financeiros – novo governo e presidente incluídos – vale a pena prestar atenção às narrativas da crise e tentar perceber de que forma elas continuam a constituir um elemento central na legitimação da ação política e na luta entre governo e oposições. Em grande parte, aquilo que a crise realmente é depende da história que se conta dela e da arqueologia e genealogia que se faz das suas causas. Por isso mesmo, as questões mais recorrentes no discurso político até às eleições de 5 de Junho foram as de saber “Como se chegou até aqui?”, “Que cadeia de decisões e fatores externos explicam ou ajudam a compreender a crise?” e “Que grau de consciência política caraterizou os atores políticos durante o processo?” Enquanto primeiro-ministro e secretário-geral do PS, José Sócrates preocupou-se em insistir que a crise se deveu a fatores exógenos ao país e às próprias opções políticas do seu governo. Mais ainda, e recorrendo à dimensão global, o argumento encerrava a lógica de que a crise colocava desafios graves à estabilidade do euro, da zona euro e mesmo à continuação do projeto europeu. Na narrativa da crise manipulada por José Sócrates (e isto porque uma narrativa é sempre uma manipulação dos fatos e da realidade, por quem quer que produza uma), o governo do PS carregava o fardo pesado da defesa do euro e da Europa, e só a solidariedade dos sócios europeus para com os países periféricos e a coesão nacional permitiram ultrapassar as dificuldades. Ao mesmo tempo, e procurando não perder terreno face às narrativas produzidas mais à esquerda, o PS lá ia arremetendo contra os mercados, especialmente contra as agências de notação financeira, transformando-os na cara mais visível dos interesses especulativos anti-Europa e anti-euro quando aquelas começaram a baixar a nota da dívida (o rating) da República e a apostar numa eventual bancarrota (o default). Sócrates via o seu governo e as suas políticas como baluarte da defesa dos interesses nacionais no meio de uma crise europeia cujo elo mais fraco passara entretanto a ser Portugal. A manipulação tornou-se evidente quando, no espaço de poucas semanas, o argumento passou de ser utilizado para justificar a recusa da ajuda externa do FMI/UE a justificar essa mesma ajuda.
Enquanto isto, a oposição à direita produzia a sua própria narrativa da crise, quase que indiferente ao fato de um dia regressar ao governo e ser confrontada com uma nova perspectiva da realidade. Onde Sócrates só via fatores exógenos e crise global, PSD e CDS só viam políticas erradas e incapacidade de produzir mudanças estruturais. Quando o PS começou a arremeter contra especuladores e agências de notação, os mais liberais e o presidente Cavaco Silva lembraram que era escusado criticar a ‘neutralidade dos mercados’ que ‘sabem bem o que se cá passa’ e antes acatar os seus ditames teleológicos. Se ao menos Portugal voltasse a ser o aluno exemplar da Europa dos anos 80 e 90 (esse mesmo que condenou a agricultura e pescas e restante produção nacional de acordo com a lógica circular inerente à narrativa do aluno exemplar da Europa). Se algum programa o programa do novo governo do PSD tem é esse regresso à narrativa de Portugal-aluno-exemplar-da-Europa-que-há-de-resolver-todos-os-problemas-nacionais. A determinação do novo primeiro-ministro Passos Coelho tem relação direta com esta ilusão, e assim se justifica que quisesse ser mais troikista que a troika e antecipar resultados para impressionar a Europa (à custa do clássico aumento de impostos). E só assim é possível compreender que tenha recebido a decisão da Moody’s de atirar para o nível do lixo a dívida portuguesa como um ‘murro no estômago’, logo no dia seguinte a os bancos portugueses terem passado com facilidade os testes de stress impostos pelo Banco Central Europeu. De repente, a onda de choque da decisão da Moody’s transformou muitos liberais em críticos da cegueira dos mercados, e a sua narrativa da crise passou a ser povoada de fatores exógenos e teorias da conspiração contra o euro, em que Portugal é utilizado como mero instrumento do ataque à Grécia, e depois a toda a Europa, por insaciáveis especuladores financeiros. De tal forma que a panaceia parece agora ser para muitos a criação de agências europeias de notação, tão ‘neutrais’ como o próprio mercado, claro, e já agora benevolentes para com os desmandos de governação de quem nos trouxe até aqui e que quem nos governar no futuro será tentado, mais tarde ou mais cedo, a repetir.
O comportamento das agências de notação no início do mês de Julho lançou uma onda de choque pela Europa, e desde a Comissão Europeia ao Banco Central, passando pelo governo alemão, soaram as campainhas de alarme como nunca antes tinha acontecido. Mais uma vez, foi o risco de contágio a economias que importam que provocou o alarme, designadamente quando a negociação interminável do segundo pacote de resgata da Grécia num ano prometeu incendiar a Espanha e a Itália com uma subida vertiginosa dos juros da dívida a curto prazo. As hesitações europeias não ajudaram, mas finalmente foi marcada uma cimeira extraordinária dos países da zona euro para o passado dia 21 de Julho, debaixo do feroz ataque de Helmut Kohl ao papel da Alemanha de Angela Merkel na condução dos negócios europeus. Depois de uma primeira declaração da chanceler alemã de que não seriam de esperar resultados espetaculares da cimeira, o encontro da véspera com o presidente francês Sarkozy deixou o caminho aberto para um consenso entre os 17 países do euro para um novo plano de resgate da Grécia, com consequências positivas para Portugal e a Irlanda certamente, mas também para a Espanha e a Itália e os restantes países da moeda única. Em primeiro lugar, vale a pena sublinhar que este avanço – que representou uma cedência da Alemanha quanto aos mecanismos de gestão da crise – resultou da recuperação do método da convergência franco-alemã, que tantos resultados tem produzido ao longo da construção europeia. Sem o consenso franco-alemão, tem sido muito difícil dar novos passos na construção europeia e superar os obstáculos do caminho. Assim, e face à iniciativa franco-alemã, desapareceram as reticências de países como a Holanda e a Finlândia, partidários da tese da punição aos países não cumpridores. Uma primeira decisão saída cimeira diminuiu assim os juros do empréstimo concedido através do FEEF, no caso português de 5,7% para 3,5%, o que representa um corto no serviço da dívida portuguesa na ordem dos 2 milhões de euros por dia. Também foi decidido um alargamento nos prazos de pagamento dos 7 para os 15 anos, podendo a assistência financeira para a consolidação chegar aos 30 anos. No caso grego unicamente, e este é o ponto mais controverso do acordo, os credores privados vão participar num plano de reestruturação da dívida que prevê a recompra da dívida grega no mercado secundário e uma efetiva perda do capital investido, ainda que de caráter voluntário, o que representa, para as agências de notação, um certa forma de incumprimento (default) e poderá voltar a repercutir-se sobre o rating da Grécia.
Mas as reformas acordadas sobre a função e estrutura do FEEF representam uma verdadeira evolução no sentido federal e supranacional da Europa já que abrem o caminho para a emissão de dívida pública comum dos países da zona euro, os famosos eurobonds ou euro-obrigações, e a assistência monetária preventiva do futuro (a partir de 2014) Fundo Monetário Europeu aos países-membros ainda antes do deflagrar das crises e como forma de as evitar. Este tem sido o principal cavalo de batalha dos federalistas na Europa, a emissão de dívida comum que permita garantir e estabilizar a oferta de dívida nacional e assim transformar a zona euro em bloco coeso e mais preparado para resistir aos ataques especulativos do mercado. Sem dúvida que este momento crucial e difícil, como outros no passado, está a instigar respostas, ainda que hesitantes, mas que conduzem o projeto europeu para o próximo nível. E o próximo nível não pode deixar de ser, como apontou a cimeira de 21 de Julho, o da comunitarização da política orçamental e fiscal e dos instrumentos de controlo financeiro, do controlo democrático daquelas e da estratégia de crescimento económico. A propósito desta última, muitos pedem um verdadeiro plano Marshall para a Europa de hoje que, a par do controlo da dívida pública e da disciplina orçamental dos estados-membros, seja capaz de delinear e pôr em prática grandes investimentos e políticas crescimento económico equilibradas, coerentes e integradas a nível europeu. Seja como for, o próximo nível já só pode ser o da comunitarização do que falta comunitarizar e, a par dela, a construção coerente de um mecanismo democrático europeu capaz de exercer os famosos checks and balances sobre os sistema.
*Doctor en Relaciones Internacionales.
Profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Técnica de Lisboa (UTL)
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Reproducción y/o transcripción total o parcial, con fines académicos o informativos, solo es permitida, siempre que sea citada la fuente "Revista Letras Internacionales, Universidad ORT Uruguay".
Todos los links a los que se hace referencia en esta publicación corresponden a artículos y documentos disponibles en Internet con acceso totalmente gratuito. Las reflexiones y/o comentarios realizados a la información que aquí se envía y las opiniones contenidas en los artículos, son de exclusiva responsabilidad de los autores. La Editorial que se incluye en nuestras ediciones es de responsabilidad del equipo de Letras Internacionales.