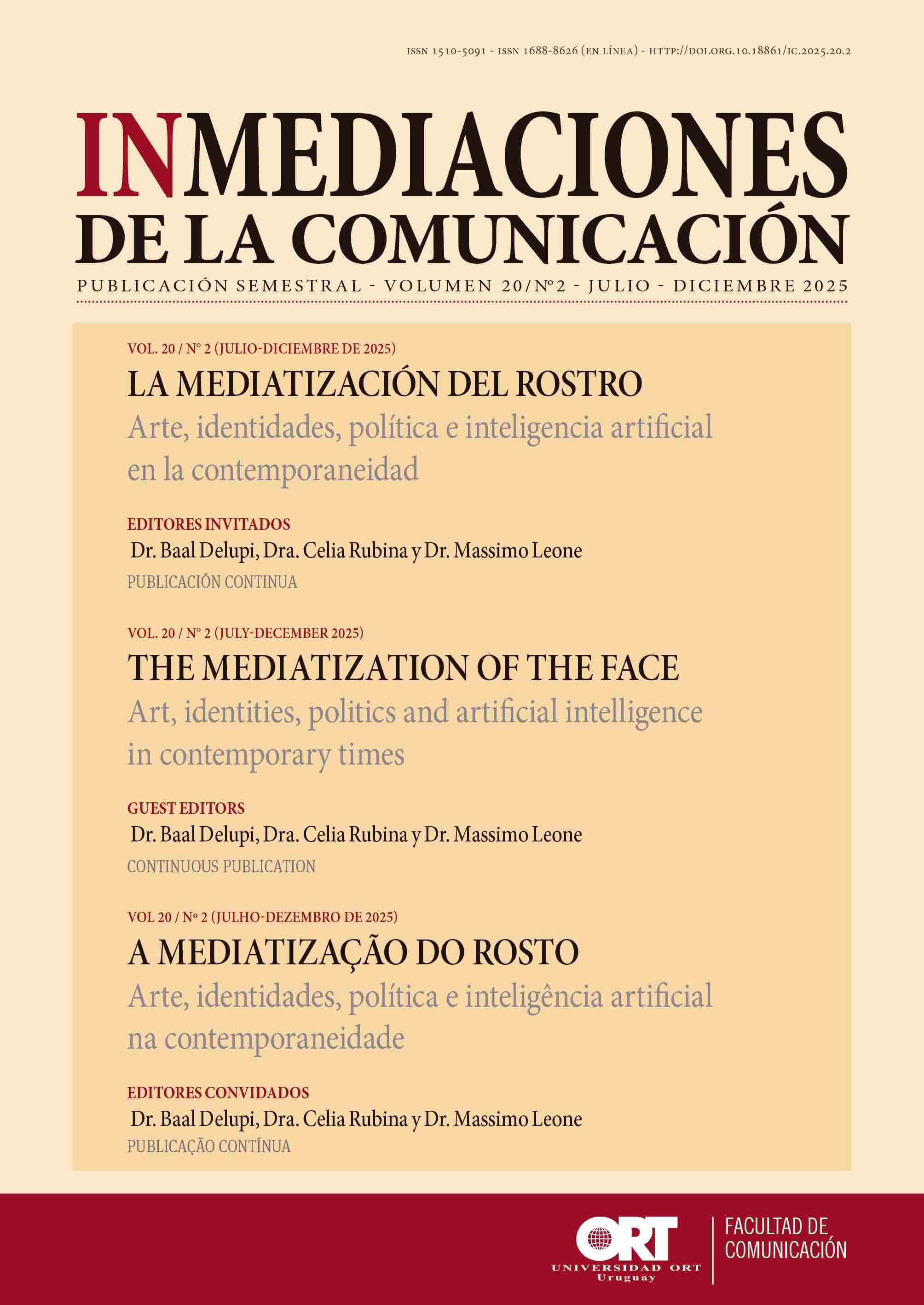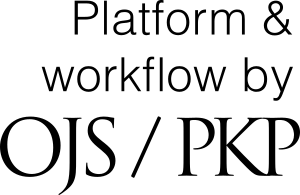“Cara de empregada doméstica”
Discursos sobre os corpos de mulheres negras no Brasil
DOI:
https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4110Palavras-chave:
ideologia, contradição social, racismo, resistência, subjetivaçãoResumo
O trabalho analisa a construção discursiva dos estereótipos de mulheres negras no Brasil, com foco na discriminação da figura da empregada doméstica a partir do modo como é significado seu corpo. Com base na teoria da Análise de Discurso, filiada às pesquisas que têm como principal autor Michel Pêcheux (1975; 1983), em diálogo com a produção teórica da feminista negra Lélia Gonzalez (1983), analisamos um corpus composto por textos veiculados nos meios de comunicação brasileiros em torno de duas polêmicas com repercussão significativa em 2013: a aprovação da emenda constitucional EMC 72-2013, apelidada “PEC das empregadas domésticas”, projeto que estendeu aos empregados domésticos direitos já garantidos aos demais trabalhadores formais no país, e o programa federal “Mais Médicos”, que tem como objetivo contratar médicos para atuarem em cidades com carência no serviço básico de saúde. O enunciado que provoca as análises foi a declaração nas redes sociais de uma jornalista sobre o programa “Mais Médicos”: "Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo?". Perguntamo-nos sobre como são construídos historicamente os sentidos para a designação “cara de empregada doméstica”, percorrendo redes de memórias em que os corpos das mulheres negras são significados (e disputados em seus sentidos) nos discursos da escravidão e da colonização, da construção da identidade nacional sustentada no mito da democracia racial e dos movimentos sociais contemporâneos de mulheres negras. Considerando que a luta ideológica se dá também no terreno da linguagem, disputando os significantes e produzindo regimes de visibilidade, analisamos também os deslocamentos e equívocos que afetam essa designação nas condições de produção e circulação dos discursos sobre “empregadas domésticas” no espaço público e político brasileiro.
Downloads
Referências
Antunes, R. (2013). A revolta da sala de jantar. Estadão. https://www.estadao.com.br/cultura/a-revolta-da-sala-de-jantar/?srsltid=AfmBOoqZMdv6bxpS2oyq6IPJ1bs8hLoT62zklwH-lHqSveNkCq6rMnFC
Bento, C. (2022). O pacto da branquitude. Companhia das Letras.
Cestari, M. J. (2015). Vozes-mulheres negras ou feministas e antirracistas graças às Yabás. Tese de Doutorado em Linguística, Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/963234
Cestari, M. J. (2023). Costura da memória: Rosana Paulino e o olhar sob(re) corpos de mulheres negras. Em Ferreira, M. C. L. & Vinhas, L. (Org.), O corpo na Análise do Discurso. Conceito em movimento (pp. 255-278). Pontes.
Cestari, M. J., Chaves, T. V. & Baldini, L. (2021). O pretuguês, a língua materna e os discursos fundadores da brasilidade. In: Zoppi Fontana, M. G. & Biziak, J. (Org.), Mulheres em discurso: lugares de enunciação e corpos em disputa. (pp. 27-52). Pontes Editores.
Courtine, J.-J. & Haroche, C. (2016). História do rosto. Exprimir e calar as emoções (do século XVI ao século XIX). Vozes.
Courtine, J.-J. (1984). Le tissu de la mémoire: quelques perspectives de travail historique dans les sciences du langage. Langage, 114, 5-12.
da Silva, C. (2013). A PEC das Domésticas, os grilhões e as madames. Blog da Cidinha. http://cidinhadasilva.blogspot.com/2013/03/a-pec-das-domesticas-os-grilhoes-e-as.html
Damasceno, C. (2011). Segredos da boa aparência: da “cor” à “boa aparência” no mundo do trabalho carioca (1930-1950). EDUFRRJ.
França, G. R. A. (2017). Por lentes de Gênero e Raça: Análise de discursos sobre uma brasilianidade. Em Zoppi Fontana, M. G. & Ferrari, A. J. (Org.), Mulheres em discurso: identificações de gênero e práticas de resistência (pp. 81-98). Pontes.
Freyre, G. (2003). Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob regime da economia patriarcal. Global.
Gonzalez, L. (1982). E a trabalhadora negra, cumé que fica? Jornal Mulherio. 7.
Gonzalez, L. (2020). Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Em Rios, F. & Lima, M. (Org.), Por um feminismo afro-latino-americano (pp. 75-93). Zahar Editores.
hooks, b. (1995). Killing rage: Ending racism. Henry Holt and Company.
Mbembe, A. (2018). Crítica da Razão Negra. N-1 edições.
Modesto, R. (2018). Interpelação ideológica e tensão racial: efeitos de um grito. Littera: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, 9(17), 124-145. https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera/article/view/10378
Pêcheux, M. (1988). Semântica e discurso. Uma crítica à afirmação do óbvio. Ed. Unicamp.
Pêcheux, M. (1990). O discurso: Estrutura ou Acontecimento. Pontes.
Pêcheux, M. (2011). As massas populares são um objeto inanimado? Em Orlandi, E. (Org). Análise de discurso: Michel Pêcheux (pp. 251-273). Pontes.
Pêcheux, M. (2011). Metáfora e interdiscurso. Em Orlandi, E. P. (Ed.), Análise de Discurso: Michel Pêcheux (pp.151-161). Pontes.
Pinho, O. (2004). O efeito do sexo: políticas de raça, gênero e miscigenação. Cadernos Pagu, 23, 89-119. https://doi.org/10.1590/S0104-83332004000200004
Silva-Fontana, L. (2021). O discurso do colorismo no Brasil: processos de racialização e genderização nos dizeres da identidade nacional e das mídias negras. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, Brasil. https://repositorio. unicamp.br/acervo/detalhe/1166986
Zoppi Fontana, M. & Silva-Fontana, L. (2023). Corpo, gênero e raça: reflexões sobre uma abordagem discursiva do corpo. Em Ferreira, M. C. L. & Vinhas, L. (Org.), O corpo na Análise do Discurso. Conceito em movimento (pp. 57-87). Pontes.
Zoppi Fontana, M. G. & Cestari, M. J. (2014). “Cara de empregada”: Discursos sobre os corpos de mulheres negras no Brasil. Rua, 20 anos, 167-185. https://www.labeurb.unicamp.br/rua/artigo/capa?publicacao_id=11
Zoppi Fontana, M. G. (2002). Acontecimento, arquivo, memória: às margens da lei. Revista Leitura, 30, 175-205. https://doi.org/10.28998/2317-9945.200230.175-205
Zoppi Fontana, M. G. (2005) Objetos paradoxais e ideologia. Revista Estudos da língua(gem), 1(1), 15-37. https://doi.org/10.22481/el.v1i1.977
Zoppi Fontana, M. G. (2017a). “Lugar de fala”: enunciação, subjetivação, resistência. Conexão Letras, 12(18), 63-71. https://doi.org/10.22456/2594-8962.79457
Zoppi Fontana, M. G. (2017b). Domesticar o acontecimento. Metáforas e metonímias do trabalho doméstico no Brasil. Em Zoppi Fontana, M. G. & Ferrari, A. J. (Orgs.), Mulheres em Discurso. Processos de identificação e práticas de resistência (pp. 123-162). Pontes.
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.